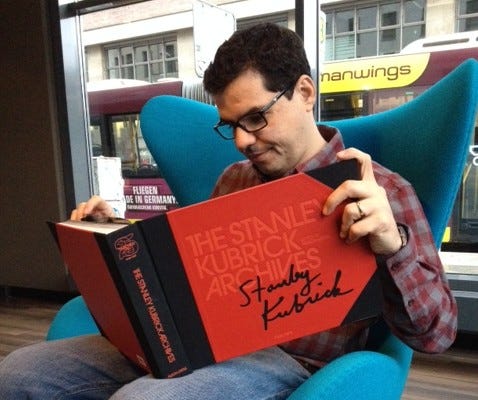Rumo à margem última
Mainardi fecit fecit
No estupendo Meus mortos: um autorretrato (Record), Diogo Mainardi não chega a inventar uma linguagem que não existia, mas certamente retrata um mundo que deixou de existir. Este mundo é tanto particular — no começo da década, ele perdeu o pai, o irmão e a mãe em questão de meses — quanto universal. O livro, que li como um romance gráfico de não ficção (com fotografias e reproduções pictóricas em vez de desenhos), passeia não só pelas memórias do autor, mas sobretudo por Veneza, ocupando-se majoritariamente das obras de Tiziano (“Deus”) e Rubens (“seu profeta”), entre outros artistas.
Essa longa reflexão sobre a transitoriedade, a finitude e a persistência do obscurantismo talvez seja a obra literária brasileira que mais se aproxima das “marginálias” que (des)orientam os nove volumes do Breviário de São Orfeu, de Miklós Szentkuthy. Não estou afirmando que a obra do autor húngaro é uma referência para Mainardi. Estou dizendo que, ao ler Meus mortos e suas digressões sub specie mortis acerca da arte e da civilização ocidentais, eu, André, lembrei-me de Szentkuthy.
Aliás, parafraseando Zéno Bianu em sua introdução a Marginalia on Casanova, em uma era na qual quase todos, “mesmo sob o signo do pior conformismo”, louvam a marginalidade ou se apresentam como vozes “marginais” (creio que o termo preferido é “periféricas”), Mainardi aparece como, de fato, “o escritor da margem absoluta” e, eu diria, da margem última — aquela da qual ninguém retorna, se me permitem o desvio semântico.
Meus mortos demonstra como o triunfo artístico não raro caminha em paralelo ao (ou nasce do) fracasso da espécie e da civilização humanas. Mainardi sublinha que a fase mais radical de Tiziano, por exemplo, também decorre das crescentes opressões e brutalidades dos conflitos religiosos que vieram na esteira da Reforma e da Contrarreforma, sepultando a relativa liberdade renascentista:
Em resposta aos energúmenos que, na fase final de sua carreira, atacavam-no pelo aspecto mal-acabado de suas obras, ele assinou [na Anunciação da Igreja de San Salvador] ‘Titianus fecit fecit’ (feito e refeito) a fim de esclarecer, de maneira propositalmente redundante, que aquelas manchas eram deliberadas (e que o quadro estava terminado). O último Tiziano, que se rebelou aos limites impostos por seu tempo, está resumido nessa assinatura. Num ambiente cada vez mais repressivo, em que uma certeza doutrinária violentava a outra, ele reagiu tornando sua pincelada cada vez mais livre.
Nos estertores do tempo humano, nesta interminável descida rumo ao nada, as relações entre os facínoras e a arte adquirem contornos curiosíssimos. Na pilhagem nazista de obras de arte pela Europa afora, Hermann Göring roubou uma das Danae de Tiziano: o chefe nazista da Luftwaffe “conseguia conviver ao mesmo tempo com Tiziano e Auschwitz”, e afixou a tela “no teto de seu quarto, como num motel”.
Similarmente, Perseu e Andrômeda “foi roubada do Hermitage por Stálin em 1931” e vendida “para financiar as monstruosidades cometidas durante seu primeiro plano quinquenal. O sacrifício da carne nua pintada por Tiziano, nesse caso, acabou resultando no assassinato de 7 milhões de pessoas”.
Diante das monstruosidades históricas e cotidianas, há em Meus mortos um contínuo apelo à reclusão ou, melhor dizendo, à restrição do espaço social e virtual como forma de sobrevivência, por um lado, e como estratégia para alcançar ou manter alguma liberdade artística e criativa, por outro. É preciso cultivar e proteger o que ainda nos resta, desde as pessoas que amamos até nossas obsessões, pois vivemos sempre “com os carniceiros celestiais de um lado e a humanidade bestializada do outro, enquanto um cachorro aproveita para lamber o sangue derramado”.
Aos meus olhos, persiste no livro uma oscilação entre a consciência da inutilidade de tudo, inclusive da arte, e o apreço pela expressão, incluindo a expressão da inutilidade. Não é fácil conviver com Tiziano e Auschwitz, mas, felizmente, ainda existem autores contrariando a famigerada e estúpida fórmula adorniana (e qual fórmula adorniana não é estúpida?).
Se, parafraseando Mainardi, é incontornável a sensação de que somos indivíduos cinzas, pertencentes a estirpes cinzas que viveram em épocas igualmente cinzas, também me parece incontornável a atualização desse esforço civilizatório intrínseco à produção literária e artística — por mais que o presente e o futuro sejam resolutamente analfabetos.
Uma afirmação filosófica
Assista ao vídeo:
“(…) e [fez] o gol da vitória nesta noite. Você está de volta!”, diz a repórter. E David Neres foi criticado por alguns pela resposta supostamente evasiva, mesmo deseducada: “Nunca fui embora. Eu sempre estive aqui”. Mas não vejo nada de deseducado ou evasivo na resposta. Trata-se, evidentemente, de uma afirmação filosófica.
Ao dizer que nunca foi a lugar algum e sempre esteve ali, David Neres está asseverando uma espécie de realismo filosófico: ele aponta para a repórter o fato de que os particulares básicos (indivíduos e objetos materiais) continuam a existir no mundo mesmo quando não percebidos por outrem. Ao fazer isso, ele pressupõe a existência de um esquema conceitual unificado e compartilhado, algo evidente na medida em que a repórter não apenas identifica como reidentifica (“Você está de volta!”) o particular em questão (David Neres).
A seu modo, Neres sublinha a célebre formulação de Peter Strawson em Indivíduos (trad.: Plínio Junqueira Smith, Ed. Unesp, p. 49):
Não há dúvida de que temos a ideia de um único sistema espaçotemporal de coisas materiais; a ideia de que toda coisa material está espacialmente relacionada em todo momento, de várias maneiras em vários momentos, a todas as outras em todos os momentos. (…) Ora, digo que uma condição de termos esse esquema conceitual é a aceitação inquestionada da identidade de particulares em, pelo menos, alguns casos de observação não contínua.
Neres, por conseguinte, tem plena consciência do que assinala E. M. Zemach em seu artigo “Four ontologies” (The Journal of Philosophy, vol. 67, nº 8, p. 231), a saber: “todas as entidades que uma ontologia sempre deve acomodar são espaçotemporais”.
Ademais, o que Neres apresenta de forma sucinta pode ser lido como uma resposta às postulações do ceticismo com relação à (im)possibilidade de se justificar quaisquer afirmações acerca da existência do mundo exterior e de outros indivíduos e mentes.
No entanto, é importante ressaltar que Neres, a exemplo de Strawson e contrariamente ao que afirmou Barry Stroud em sua leitura de Indivíduos no artigo “Transcendental arguments” (1968), não se mostra interessado em “provar” a existência do mundo exterior etc. Nas palavras de Roberto Horácio de Sá Pereira em seu “Argumentos transcendentais”, o que Strawson — e, portanto, Neres — prova(m) é que, “em razão do nosso sistema de referência (conceptual framework) fundamental, estaríamos comprometidos com uma ontologia fundamental de objetos materiais permanentes”.
E, como podemos perceber, pressupondo que vocês existem e que existe um mundo com tais e tais coisas (incluindo eu mesmo), alguns desses objetos materiais (relativamente) permanentes marcam gols e cedem entrevistas.
A vida Stoppard — ou foi o automóvel?
O dramaturgo e roteirista Tom Stoppard faleceu dias atrás, aos 88 anos. E o também dramaturgo e roteirista David Mamet escreveu um belo texto sobre o colega AQUI (em inglês). Um trechinho singelo:
Qualquer ser humano capaz de soletrar pode escrever imitando o que está na moda. O amador entende isso como inspiração; o artista, como prostituição. Toda arte efetiva deve se conformar a algum modelo; a grande arte é simultaneamente sui generis.
Lembrando que a Companhia das Letras editou um volume com algumas das melhores obras de Stoppard por aqui, com tradução de Caetano W. Galindo: Rock n’roll e outras peças.
Leia, também, ESTE ensaio de Martim Vasques da Cunha sobre o dramaturgo.
Johnny vai te pegar
Há um “ambient slasher” intitulado In a violent nature (Natureza violenta). Foi dirigido por Chris Nash, em seu longa de estreia, e lançado no ano passado. Está no Telecine. Imagine Sexta-feira 13 filmado quase que inteiramente acompanhando o assassino, e acompanhando à moda de Elefante (Alan Clarke, 1989, que serviu de inspiração estilística para o filme homônimo de 2003, dirigido por Gus Van Sant), com aqueles travellings supimpas. Bacaníssimo.
Estão ali todos os elementos da franquia supracitada, o assassino mudo (aqui é Johnny, não Jason) voltando à vida ao ser “incomodado”, a máscara (uma Vajen Bader vintage, não aquela de hóquei), as armas brancas etc. Nash optou pela janela clássica (1:37:1) porque via slashers em VHS quando moleque, nos televisores quadrados que eram as nossas babás antigamente. Essa escolha ajuda a conferir um sabor especial à coisa.
Para a minha geração, isto é, gente nascida entre o finalzinho dos anos 1970 e o começo da década seguinte (sou de 1980), creio que a janela clássica tem mais apelo cinefílico do que as firulas (saltos de fotogramas, ranhuras variadas, queimaduras de cigarro, dessincronias) de Quentin Tarantino no divertido e pouco visto À prova de morte. O motivo desse apelo é óbvio: somos a geração do videocassete. No meu caso, nascido e criado no interior, não havia alternativa, pelo menos até certa idade; só depois dos 15 é que a administração (“pais”) passou a autorizar minhas idas ocasionais aos cinemas da capital. Mesmo assim, 90% do que via eram na telinha.
Por essas e outras, In a violent nature se comunica comigo em outro nível. Creio que a coisa não funcionaria (raramente funciona, quando é o caso) se o longa fosse um mero remake de Sexta-feira 13, se eu me visse diante de (mais) uma “atualização” (barateamento) de propriedade intelectual com vistas a faturar em cima dos nostálgicos e introduzir a marca para os neófitos.
Ao mesmo tempo em que concebe e introduz uma abordagem diferenciada, Nash se mantém fiel aos códigos mais, digamos, viscerais do gênero. Logo, não se trata de uma (argh) “desconstrução”. In a violent nature não é um Sexta-feira 13 “desconstruído”, não é um “pós-terror”, inclusive (com o perdão do trocadilho) pela natureza violenta de suas imagens. O aspecto formal é “novo”, mas o conceito básico não foi alterado, o que nesse caso é algo bom.
Algumas cenas explicitam bem a manutenção desse cerne. Exemplo: chegando por trás, o assassino atravessa o tronco da moça com a lâmina (presa a uma corrente) e o braço, abrindo um belo rombo; em seguida, vira o corpo e finca a lâmina na cabeça da vítima; depois, vira o corpo outra vez e, usando a lâmina fincada na cabeça como gancho e a corrente, puxa a cabeça de tal forma que esta atravessa o buraco no tronco; a vítima meio que vira um 4; por fim, artista desapegado da obra, o assassino empurra o corpo de um barranco e sai à caça da próxima vítima.
Lindo, né?
Como se vê e/ou procurei demonstrar, Nash alcança a originalidade a partir de elementos já muito utilizados, contrabandeando uma pegada slow cinema para as entranhas de um gênero brutalíssimo. Os ruídos entre os códigos do slasher e a forma da execução asseguram o frescor e salientam a ironia, que também está (ou deveria estar) nos nossos olhos.
Nesse sentido, o terço final fecha tudo brilhantemente. Quando acompanhamos a fuga da final girl, Nash consegue um efeito impressionante desde os ruídos na trilha até o plano que encerra o longa, quando a moça olha para a floresta e a floresta parece olhar de volta — no que me lembrei das “colinas com olhos” de Wes Craven.
Encerrando,
indico a biografia Kubrick: uma odisseia, de Robert P. Kolker e Nathan Abrams, lançada pela editora Belas Letras com tradução do glorioso Lucas Mendes Kater. Há muita coisa divertida e surpreendente ali, e olha que li e reli os Archives e os livros de Michael Herr, Frederic Raphael, Michael Benson e o escambau (sem falar nos inúmeros documentários).
Eu não sabia, por exemplo, que Kubrick era primo do assassino Paul Perveler, ou que o cineasta teve de fugir da Irlanda durante as filmagens de Barry Lyndon porque se tornara um alvo do IRA — os terroristas não curtiram a ideia de usar figurantes irlandeses uniformizados como ingleses nas filmagens das cenas de batalhas.
Também aproveito o ensejo para encerrar o ano. Volto em janeiro ou quando me der na telha. Boas festas e um ótimo 2026 para todos.